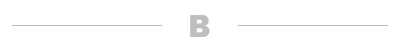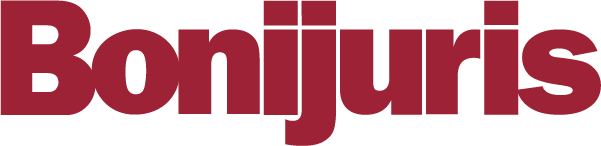Tribuna Livre
Artigos opinativos publicados na seção Tribuna Livre da Revista Bonijuris versando sobre os mais diversos temas jurídicos.
Assédio tecnológico de adolescente para ato libidinoso
Por Cláudio Álvares Sant`Ana e Joaquim Leitão Júnior
Na última década, a sociedade vem passando por intensa evolução dos meios digitais e tecnológicos, com a consequente substituição de sistemas tradicionais até então já consagrados por outros informatizados. Tal narrativa é facilmente vislumbrada quando se faz uma análise comparativa entre alguns ramos comerciais de alguns anos atrás e seu contexto atual, assim como os meios de interações interpessoais.
Classificados em jornais de grande circulação eram o meio mais comum de comercialização de bens móveis e imóveis na sociedade, sendo substituídos por plataformas de comércio virtual. Da mesma forma, o transporte urbano, para quem não possuía veículo próprio e optava por meio de locomoção mais cômodo, era realizado pelo lendário táxi, sendo praticamente extinto com o advento de aplicativos de transporte particular.
Nesse viés, os diálogos que ocorriam na maioria das vezes de maneira pessoal e por meio de ligações telefônicas, quando existia a barreira da distância entre interlocutores, atualmente dão lugar aos aplicativos de conversas instantâneas criptografadas ou não, a depender do aplicativo. Toda evolução digital até então vislumbrada vem sendo aplicada de maneira a trazer maior comodidade aos seus usuários, que passaram a dominar praticamente todas as nuances do mundo moderno, do conforto de suas residências, com um único clique em seu aparelho smartphone.
As facilidades dos meios digitais, aliadas a seu acesso indiscriminado a todas as faixas etárias, representam um vasto espaço para a prática das mais diversas modalidades criminosas existentes no nosso ordenamento jurídico. Adolescentes, por passarem a maioria do tempo conectados e online, tornam-se alvos fáceis para cibercriminosos, que detêm nas redes sociais o seu campo de atuação para o cometimento de crimes, principalmente os de conotação sexual.
Atento a tais mudanças de comportamento social, o legislador tipificou o ato de aliciamento de crianças por qualquer meio de comunicação no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 241-D, nos seguintes termos:
Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: (Incluído pela Lei 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela Lei 11.829, de 2008).
Ao proceder a análise detida da referida norma, o operador jurídico se depara com o tipo penal que descreve a conduta tendo como vítima criança. Contudo, omitiu a figura da vítima adolescente. Por lapso legislativo, o legislador reformista do eca, no ano de 2008, ao acrescentar o tipo penal transcrito no art. 241-D ao estatuto, não abarcou a figura do adolescente como vítima de tal conduta criminosa. Em análise global do ordenamento jurídico pátrio, não se vislumbra qualquer tipo penal prevendo em seu preceito primário a conduta de aliciar ou assediar[1] adolescente, por meio de comunicação, para fins de prática de atos libidinosos.
Ao que parece, estamos diante do fenômeno da anomia legislativa, que ocorre em caso de ausência de norma regulamentadora de determinada situação fática. Nesse sentido é a doutrina de Lélio Braga Calhau (2021), para quem:
a anomia é uma situação social em que falta coesão e ordem, especialmente no tocante a normas e valores. Se as normas são definidas de forma ambígua, por exemplo, ou são implementadas de maneira causal e arbitrária; se uma calamidade como a guerra subverte o padrão habitual da vida social e cria uma situação em que se torna obscuro quais normais têm aplicação; ou se um sistema é organizado de tal forma que promove o isolamento e a autonomia do indivíduo a ponto das pessoas se identificarem muito mais com seus próprios interesses do que com os do grupo ou da comunidade como um todo − o resultado poderá ser a anomia, ou falta de normas.
Como saída jurídica para tal lapso legislativo, em um primeiro momento, poderíamos pensar em aplicar a norma descrita no art. 241-D do eca também ao adolescente vítima do crime, utilizando o instituto da analogia. Porém, deparamo-nos com grave entrave jurídico, sendo impossível a utilização da analogia in malam parten no direito penal pátrio. Como ressalta Cleber Masson (2013, p. 112), “analogia in malan partem é aquela pela qual aplica-se ao caso omisso uma lei maléfica ao réu, disciplinador de caso semelhante. Não é admitida, como já dito, em homenagem ao princípio da reserva legal”.
No mesmo sentido, a doutrina de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2015. p. 41) nos acrescenta que:
em face da omissão involuntária da lei, aplicamos norma que disciplina fato análogo. Ao contrário do que acontece no direito penal, no âmbito do qual a analogia não pode ser utilizada em prejuízo do réu, na esfera processual ela goza de ampla aplicação. Todavia deve-se interpretar com reservas a admissibilidade da analogia quando se trata da restrição cautelar da liberdade ou quando importe em flexibilização de garantias, o que seria intolerável à luz da Constituição Federal.
Já o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a analogia in malan partem, no rhc 57.544/SP, julgado em 6 de agosto de 2015, é no seguinte sentido:
No crime de dano, a inclusão da Caixa Econômica Federal na qualificadora relativa à conduta cometida contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista é analogia in malam partem, pois o Código Penal não faz menção a dano cometido contra empresa pública: “Ainda que com a previsão da forma qualificada do dano o legislador tenha pretendido proteger o patrimônio público de forma geral, e mesmo que a destruição ou a inutilização de bens de empresas públicas seja tão prejudicial quanto as cometidas em face das demais pessoas jurídicas mencionadas na normal penal incriminadora em exame, o certo é que, como visto, não se admite analogia in malam partem no Direito Penal, de modo que não é possível incluir a Caixa Econômica Federal no rol constante do dispositivo em apreço.
Em avanço das exposições e em nosso sentir também, as condutas de aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, o adolescente com o fim de com ele praticar ato libidinoso não se enquadra, em regra, nas subsunções do art. 216-B[2], do art. 218-A[3], do art. 218-B[4] e do art. 218-C[5], todos do Código Penal brasileiro. Repita-se: em regra, pois, a depender dos ingredientes fáticos, pode ser que os tipos penais citados se ajustem na tipificação do caso concreto.
Isso posto, de maneira a evitar a impunidade dessa conduta grave que na maioria das vezes deixa marcas psicológicas irreparáveis em suas vítimas adolescentes, a solução legal vislumbrada para enquadrar a prática do crime de aliciar e assediar adolescente fazendo uso dos meios de comunicação para prática de atos libidinosos seria uma alteração legislativa no art. 241-D do eca, fazendo incluir o termo “adolescente” ao preceito primário da referida norma. Em outras palavras, apenas por lege ferenda poderia ser corrigida essa falha legislativa.
Caso contrário, tal conduta praticada em desfavor daqueles que têm entre 12 anos completos e 18 incompletos (adolescente) de idade seria atípica, trazendo enorme prejuízo à proteção a ser despendida pelo Estado e, principalmente, às vítimas, ao verem criminosos dessa jaez livres e impunes, o que é de todo inaceitável.
REFERÊNCIAS
CALHAU, Lélio Braga. Resumo de criminologia. 4. ed. rev., ampl. e atual. Niterói (RJ): Impetus, 2021.
MASSON, Cleber Rogério. Direito penal esquematizado – Parte Geral. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo Método, 2013. v. 1.
TÁVORA,
Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues.Curso de direito processual penal. Salvador, Juspodivm, 2015.
Assédio tecnológico de adolescente para ato libidinoso/tribuna livre, 1
CLÁUDIO ÁLVARES SANT’ANA: Assédio tecnológico de adolescente para ato libidinoso/tribuna livre, 1
JOAQUIM LEITÃO JÚNIOR: Assédio tecnológico de adolescente para ato
libidinoso/tribuna livre, 1
NOTAS
[1] Além das condutas de instigar ou constranger.
[2] Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes: (Incluído pela Lei 13.772, de 2018)
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. (Incluído pela Lei 13.772, de 2018)
[3] Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
[4] Art. 218-B. Submeter, induzir
ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18
(dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário
discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a
abandone:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.
§ 1 º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.
§ 2 º Incorre nas mesmas penas:
I – quem pratica conjunção carnal ou outro ato
libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na
situação descrita no caput deste artigo;
II – o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem
as práticas referidas no caput deste artigo.
§3 º Na hipótese do inciso II do § 2 º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.
[5] Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia (Incluído pela Lei 13.718, de 2018).
Art. 218-C.Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio – inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia: (Incluído pela Lei 13.718, de 2018).
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei 13.718, de 2018).
Aumento de pena (Incluído pela Lei 13.718, de 2018).
§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. (Incluído pela Lei 13.718, de 2018).
Exclusão de ilicitude (Incluído pela Lei 13.718, de 2018).
§2º Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) anos. (Incluído pela Lei 13.718, de 2018).
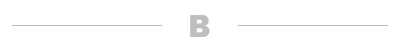
Execução de sanções em ações de improbidade administrativa
Por Acácia Regina Soares de Sá
A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 16 de junho de 2021, o substitutivo ao pl 10.887/18, que trata das alterações à Lei 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos por cometimento de atos de improbidade administrativa.
O substitutivo mencionado trouxe diversas alterações em relação ao substitutivo anterior (20 de outubro de 2020). Algumas trataram de questões relacionadas à técnica legislativa, constitucionalidade e opções políticas, ao passo que outras alterações demonstram impossibilidade prática de serem cumpridas, a exemplo das disposições do art. 18-A.
O art. 18-A, acrescentado, determina que, caso haja requerimento do réu, no momento do cumprimento da sentença as sanções poderão ser unificadas em um único juízo, prevendo ainda a possibilidade de aplicação das regras de continuidade delitiva do direito penal, sob o fundamento de que às sanções de improbidade administrativa devem ser empregadas regras de direito administrativo sancionador.
De fato, as sanções aplicadas em razão da prática de atos de improbidade administrativa devem seguir os preceitos do direito administrativo sancionador. No entanto, no dispositivo acima mencionado, incluído por meio do substitutivo ao pl 10.887/18, não há que se falar em normas de direito administrativo sancionador, mas sim em normas essencialmente de direito penal, consoante os arts. 69 a 71 do Código Penal e da Lei 7.210/84, que trata das normas de execução penal.
Assim, verifica-se a impossibilidade de sua aplicação no âmbito da improbidade administrativa. Isso porque, ainda que traga normas de Direito Administrativo sancionador, é uma ação de natureza cível, razão pela qual devem ser utilizadas as regras previstas no Código de Processo Civil (cpc), entre elas as que tratam da competência para a execução de sentença.
Nesse sentido, a competência para a execução da sentença cível, como ocorre nos casos de sentenças proferidas em ações propostas em razão da prática de atos de improbidade administrativa, é do juízo responsável pela prolação da sentença, tratando-se no caso de regra de competência absoluta, de modo que não se mostra viável a aplicação da redação trazida no dispositivo legal acima mencionado.
Aliado a esse argumento, cumpre ressaltar que as normas de direito administrativo sancionador não se confundem com as normas de direito penal, ainda que haja semelhanças entre elas, especialmente no que se refere aos direitos e garantias constitucionais, a exemplo do contraditório e ampla defesa.
Dessa forma, é possível concluir que o fato de incidirem normas de direito administrativo sancionador no âmbito da aplicação das sanções por práticas de atos de improbidade administrativa, a exemplo da tipicidade, entre outros princípios, tal característica não implica a possibilidade de aplicação de normas de direito penal ou de execução penal, dada sua natureza cível.
| Acácia Regina Soares de Sá. Juíza de Direito substituta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Especialista em Função Social do Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina – unisul. Mestre em Políticas Públicas e Direito pelo Centro Universitário de Brasília – uniceub. Coordenadora do Grupo Temático de Direito Público do Centro de Inteligência Artificial do tjdft. Integrante do Grupo de Pesquisa de Hermenêutica Administrativa do Centro Universitário de Brasília – uniceub e do Grupo de Pesquisa Centros de Inteligência, Precedentes e Demandas Repetitivas da Escola Nacional da Magistratura – enfam. |
**PUBLICADO NA REVISTA BONIJURIS / 672
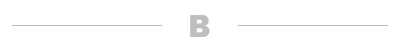
A nova lei de licitações e os programas de integridade
Por Roberto Tadao Magami Junior
A recém promulgada Lei 14.133/21 passou a exigir que a administração pública preveja nos editais que tenham por escopo contratar obras, serviços ou fornecimentos de grande vulto (aqueles que superem o valor estimado de R$ 200 milhões, segundo o art. 6º) a implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de seis meses, contados da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento (art. 25, § 4º).
A lei prevê ainda, em caso de empate entre duas ou mais propostas, dentre outros relevantes critérios como avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes e desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, que o programa de integridade poderá beneficiar uma empresa, desde que ela siga as orientações dos órgãos de controle (art. 60).
Caso restem configuradas as infrações administrativas de (i) apresentação de declaração ou documentação falsa no certame, (ii) declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, ou (iii) prática de atos previstos na Lei Anticorrupção, as sanções aplicadas deverão levar em consideração, de maneira cumulativa, no momento da individualização da pena, aspectos como a natureza e a gravidade da infração cometida, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a administração pública e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle (art. 156).
Poderá haver reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que tiver aplicado alguma das penalidades dispostas no art. 156 (advertência; multa; impedimento de licitar e contratar; declaração de inidoneidade para licitar ou contratar) após cumpridas as exigências cumulativas de pagamento da multa, reparação integral do dano causado à administração pública e o transcurso do prazo mínimo de um ano a contar da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de três anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, além da análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos, além de ser exigida a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade (art. 163).
Com base em todas essas hipóteses, extrai-se a importância do tema e as grandes discussões que surgirão acerca do porte das empresas que deverão possuir programas de integridade e seus conteúdos mínimos, já podemos antecipar algumas reflexões, sem, contudo, a pretensão de esgotá-las.
Em primeiro lugar, podemos reconhecer que errou o legislador ao supor que atos de corrupção podem ocorrer somente em contratos acima de R$ 200 milhões. Muito pelo contrário. A corrupção pode ocorrer independentemente do valor do contrato. E isso parecem reconhecer os arts. 60, 156 e 163, ao deixarem margem para a discussão sobre se nos demais contratos, independentemente do valor, as empresas deverão possuir programas de integridade e gerir os riscos da relação jurídica de maneira linear, sanando eventuais irregularidades por intermédio da aplicação de medidas imediatas. Nesse ponto, a regulamentação pelos órgãos de controle como os ministérios públicos e os tribunais de contas, assim como da advocacia (pública e privada) acerca do conteúdo dos programas de integridade com base em suas experiências certamente poderá reduzir esse déficit mediante relevantes discussões e contribuições, de forma a consolidar o tema.
Um segundo aspecto que merece elogios é o efetivo reconhecimento de que o combate à corrupção não depende única e exclusivamente do endurecimento da legislação penal, mas sim da maior adesão ao cumprimento da lei por parte das empresas, por intermédio de programas que, em essência, exijam a observância das normas, leis e regulamentos aplicáveis ao seu respectivo ambiente de negócio, bem como a promoção de valores éticos, principalmente nos códigos de conduta, por meio da capacitação dos profissionais, da transparência, da comunicação e do aperfeiçoamento de pessoal.
A Lei de Licitações demandará a efetiva implementação de programas de integridade por parte da administração pública, porquanto não se pode exigir das empresas algo que não tenham conhecimento, tampouco que já tenha sido implementado, pois atos de corrupção não se efetivam de maneira unilateral, mas podem ter início por qualquer das partes (agentes públicos ou particulares). Se um agente público for aquele que deu início ao ato, deverá a administração pública contratante possuir canais de comunicação para que o particular possa comunicar e, assim, ocorrer o saneamento da irregularidade, mediante mecanismos de responsabilização interna.
Dessa forma, é premente a efetiva criação de programas de integridade, tanto por parte da administração pública quanto pelas empresas. Esses programas deverão dialogar entre si, de forma que possam ser aperfeiçoados constantemente pelo controller, de acordo com os desafios que surgirem a contar das contratações de bens e serviços e dos modelos de negócio.
Contudo, os programas de integridade não podem se tornar simples arroubos retóricos que os reduzam a mecanismos de fachada. Pelo contrário, demandarão uma atuação efetiva tanto dos seus atores quanto dos órgãos de controle, que deverão exigir a criação, a implementação e os resultados, não com intuito persecutório, mas sim com a finalidade de promover seu adequado funcionamento na prevenção de irregularidades.
Não importa o nome (compliance, integridade, conformidade ou cumprimento), o pontapé inicial deverá ser dado pela administração pública na efetiva implementação dos programas de conformidade, com um grande desafio: definir o seu conteúdo mínimo com base no conceito de environmental, social and governance (esg), isto é, da preocupação em incentivar práticas de proteção ao meio ambiente, estimular a função social das empresas e, por óbvio, combater a corrupção em todas as suas formas, observando sempre as peculiaridades de cada modelo e o ambiente de negócio.
| Roberto Tadao Magami Junior. Advogado. Procurador autárquico. Mestre em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. |
**PUBLICADO NA REVISTA BONIJURIS / 672
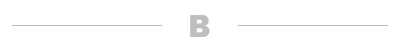
Policial é ser humano: age em legítima defesa, sim!
Por Eduardo Luiz Santos Cabette
Na onda midiática do famigerado “Caso Lázaro” vem a lume um artigo da lavra de Bottini e Rocha alegando, desde o chamativo título, que “policial não age em legítima defesa”[1]. O argumento central está em afirmar que o instituto da legítima defesa é prerrogativa somente do particular e não do Estado. Segundo os mencionados autores:
A legítima defesa é a reação do cidadão diante de uma agressão injusta. O Estado, detentor do monopólio da violência, abre mão da sua prerrogativa, e permite que o particular exerça a autotutela, porque não há tempo ou condições de acessar a proteção pública (cp, art. 25).
Não há necessidade de rebater mais intensamente essa argumentação com o fato notório de que a legítima defesa é um direito inerente ao ser humano, não importando as circunstâncias em que se encontre, mas tão somente que reúna as condições exigidas para sua configuração. Não há qualquer espécie de especulação legítima capaz de afastar a condição humana em razão de circunstâncias acidentais. Essa pretensão, para além de imoral, constitui um erro crasso que faz confusão entre acidente e essência. O acidental é aquilo que não define o ser, que pode ser retirado ou posto sem alterá-lo consideravelmente. O essencial, ao reverso, é aquilo que define e, se retirado ou posto, desnatura o ser[2]. Será que o acréscimo da condição de policial a alguém lhe retira a condição humana? Ou a retirada dessa condição de policial tem o condão de retornar o homem à condição de ser humano? É evidente que não.
A verdade é que o texto em discussão não comporta sequer a passagem da consideração da raiz intelectiva que o guia para seus aspectos técnicos. Na raiz já se pode parar, uma vez que não há sustentação, por mais mínima que seja, para um arbusto, quanto mais uma árvore de fundamentos.
A palavra “argumento”, como bem lembra Marías, tem sua “origem etimológica” no grego “àrgyros” e no latim “argentum”, referindo-se ao metal “branco, brilhante, que reluz”[3]. Portanto, argumentar significa lançar luz sobre aquilo que é o objeto em apreciação. Isso é exatamente o que não faz o texto dos autores em destaque. Na verdade, torna obscura ou opaca a questão da legítima defesa do policial por causa do seu ponto de partida desastroso que, logo de início, desumaniza o humano.
Os autores partem de um raciocínio que aniquila ab ovo tudo que pretendam afirmar no seguimento. Eles erram, como, infelizmente, é comum ocorrer, na identificação do agente. Focam no “Estado” como se ele pudesse ser “sujeito” de qualquer ação concreta no mundo real, erro grotesco (embora comuníssimo) de categoria. O Estado não é agente de coisa nenhuma, mas sim um ente abstrato. A ação é humana, de seres humanos. Alijar qualquer ser humano do direito à legítima defesa é um absurdo, é criar um sub-humano. É um direito penal do inimigo invertido. Dizer impunemente tudo que se disse torna-se fácil pelo processo de desumanização empreendido (consciente ou inconscientemente). Toma-se um ente abstrato e se o indica artificialmente como suposto agente concreto, ocultando a face humana do policial envolvido. Esse tipo de coisa, tragicamente, é um sintoma da falta de formação intelectual para além da mera tecnicidade. Isso torna tudo mais o que se afirme indigno de consideração.
Estarrece constatar como pessoas sobre as quais se supõe ou espera algum nível intelectual, ao menos mediano, podem ser contaminadas por uma cegueira a ponto de não perceberem que a desumanização tem sido ao longo da história o primeiro passo para a justificação da violência, inclusive letal, sobre certas pessoas. A desumanização do humano e sua equiparação a coisas ou animais tem sido, sempre e invariavelmente, o primeiro pretexto e o mecanismo psicológico para sua eliminação impiedosa. Esse é o resultado do rompimento das “unidades amplas”, dotadas de “realidade” e densidade “muito superior à de seus componentes” distintivos, enfatizando o “diferencial” e “desdenhando o comum” que é de “magnitude e alcance incomparáveis”[4]. Não perceber recair nesse processo desumanizador ao supostamente defender uma contenção da atuação dos agentes estatais, exatamente com o fito de preservar a dignidade humana, é o resultado inevitável de uma visão monocular, da confusão entre categorias e da incapacidade de distinção entre agentes reais e abstrações.
A mixórdia entre o “Estado” e o policial torna opaca a face do segundo, ao passo que “outro” humano é aterrorizante e tanto pior quanto mais for inconsciente, porque é exatamente isso que permite a falta absoluta de empatia, respeito, comiseração e presença insensibilizada da crueldade. Trata-se da “negação pelo sujeito da humanidade de seu semelhante”[5], sendo isso uma mão dupla, ou seja, não deve ser permitido desumanizar mesmo aqueles que possivelmente ajam de forma desumana. Ainda que um criminoso seja da pior espécie, ainda que possa haver abusos policiais por parte de alguns, isso não justifica o processo desumanizador, seja do criminoso empedernido, seja do policial infrator. Muito menos justifica generalizar o afastamento de um direito fundamental, que é a legítima defesa! A presença do “outro” (qualquer “outro” humano) é impositiva de uma relação ética de reciprocidade e reconhecimento[6]. Trata-se de um relacionamento “eu-tu” distinto substancialmente de um relacionamento “eu-isso”, já que “o homem não é uma coisa entre coisas ou formado por coisas”[7]. O artifício da obnubilação do ser humano policial mediante sua diluição no ente abstrato estatal é um processo tão sutil quanto insidioso e desastroso. Certamente, isso ocorre nos autores em destaque, não por maldade intencional, mas, como já se destacou, por um erro grotesco, por uma incapacidade incrível (embora muito comum) de identificar os verdadeiros agentes do mundo real, da história, enfim do mundo da vida cuja concretude se impõe ao mundo das ideias.
Portanto, salvo se houver a pretensão ou o equívoco de desumanizar policiais, apagando sua face e borrando seus contornos na abstração do Estado, impõe-se reconhecer, por conhecimento direto e notório, que eles podem, sim, agir em legítima defesa. Preocupações com abuso de poder estatal, opressão do indivíduo pelo Estado são questões que não podem alterar o reconhecimento de que o policial é um ser humano como outro qualquer, dotado dos mesmos direitos e garantias.
A condição humana do policial é, inclusive, inseparável de qualquer pretensão humanizadora do direito e do Estado, porque não é possível pretender um sistema humanizado que admita categorizações entre maior ou menor grau de humanidade circunstancial ou acidental. Isso sob pena de também abrir a porta para a legitimação da desumanização circunstancial dos particulares. Ao fim e ao cabo, o problema se resolve por meio da coerência e do velho bom senso.
| Eduardo Luiz Santos Cabette. Delegado de Polícia aposentado. Mestre em Direito Social. Pós-graduado em Direito Penal e Criminologia. Professor de Direito Penal, Processo Penal, Criminologia, Medicina Legal e Legislação Penal e Processual Penal Especial na graduação e na Pós-graduação do Unisal. |
REFERÊNCIAS
ARISTÓTELES. Categorias. Trad. Ricardo Santos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2014.
BOTTINI, Pierpaolo Cruz; ROCHA, Tiago. Policial não age em legítima defesa. Conjur, 30 jun. 2021. Disponível em https://www.conjur.com.br/2021-jun-30/direito-defesa-policial-nao-age-legitima-defesa. Acesso em: 02 jul. 2021.
BUBER, Martin. Eu e tu. Trad. Newton Aquiles Von Zuben. 2. ed. São Paulo: Moraes, 1977.
FARIAS, Francisco Ramos de. Por que, afinal, matamos? Rio de Janeiro: 7 Letras, 2010.
LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e infinito. Trad. José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 1988.
MARÍAS, Julián. Tratado sobre a convivência – Concórdia sem acordo. Trad. Maria
Stela Gonçalves. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
EDUARDO LUIZ SANTOS CABETTE: Policial é ser humano; age em legítima defesa, sim!/tribuna livre, 1
Policial é ser humano: age em legítima defesa, sim!/tribuna livre, 1
NOTAS
[1] BOTTINI, Pierpaolo Cruz; ROCHA, Tiago. Policial não age em legítima defesa. Conjur, 30 jun. 2021. Disponível em https://www.conjur.com.br/2021-jun-30/direito-defesa-policial-nao-age-legitima-defesa. Acesso em: 02 jul. 2021.
[2] ARISTÓTELES. Categorias. Trad. Ricardo Santos. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2014, p. 2-25.
[3] MARÍAS, Julián. Tratado sobre a convivência – Concórdia sem Acordo. Trad. Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 27.
[4] MARÍAS. Op. cit., p. 5-6.
[5] FARIAS, Francisco Ramos de. Por que, afinal, matamos? Rio de Janeiro: 7 Letras, 2010, p. 91.
[6] LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e infinito. Trad. José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 1988, p. 177.
[7] BUBER, Martin. Eu e tu. Trad. Newton Aquiles Von Zuben. 2. ed. São Paulo: Moraes, 1977, p. 9.
**PUBLICADO NA REVISTA BONIJURIS / 672